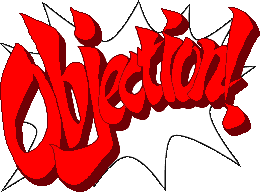Gone, dos Paatos, propriedade de Paatos, e da Glassville Records.
Welcome to Annexia
quarta-feira, 21 de setembro de 2011
Paatos - Breathing (2011)
Gone, dos Paatos, propriedade de Paatos, e da Glassville Records.
segunda-feira, 19 de setembro de 2011
The Terminal

Sim, é verdade, só ontem vimos este filme do grande Steven Spielberg. Era daqueles que estava na prateleira à espera de ser visto e lá aconteceu. Admito que desenvolvi uma espécie de mixed feelings com este filme: se por um lado o conceito e o desenvolvimento (em parte) me agradaram, e muito, mas por outro, a fórmula envelhecida usada para a catarse do filme, desanimou-me.
Conceito
A ideia subjacente ao filme é simples: imaginem que por uma piada da cruel da lei de probabilidades e da burocracia inerente a um País, alguém se encontra, à melhor forma de o enunciar, um apátrida. Em grande parte inspirado na história real de Mehran Karini Nasseri, que passou 18 anos da sua vida no Aeroporto Charles de Gaulle em Paris. O personagem de Tom Hanks, um homem oriundo de um País fictício do Leste Europeu, vê-se a braços com uma guerra civil no seu país, enquanto viaja para Nova Iorque. Caído nas malhas das burocracias internacionais, Viktor Navorski (Hanks) vê obrigado a viver na área de embarque internacional do Aeroporto JFK, sem nunca poder pisar solo americano.
Elenco
O Tom Hanks é um excelente actor. E apesar de o personagem dele ser uma repetição do Josh Baskin do Big, e é claro, do Forrest Gump. Não quero com isto dizer que ele seja de alguma forma "one trick pony", longe disso, Hanks tem é um carisma hiper-likeable nas suas interpretações, uma aura de pobre coitado, de quem se gosta de ter pena. E Navorski é isto mesmo: uma espécie de bondade pueril no meio da realidade contemporânea nova-iorquina. O que é simultaneamente uma lufada de ar-fresco, e uma incoerência que nos está sempre a afastar do mergulho directo na narrativa: são demasiadas as situações que nos relembram de estarmos a ver uma obra de ficção, quando o conceito subjacente tem como objectivo absorver-nos na quasi-realidade do filme. Do ponto de vista de desempenho, falta-me realçar o óptimo papel de Stanely Tucci, que interpreta o "director" de segurança do Aeroporto. Catherine Zeta Jones, a co-protagonista não consegue afirmar-se no próprio filme. Aliás talvez a intenção de Spielberg nem fosse essa. The Terminal é povoado em grande parte pela participação de Hanks. Diria até, que à excepção de Tucci, o restante elenco não o é: tratam-se apenas de figurantes.
Realização e fotografia
Trata-se de Steven Speilberg. É CLARO que o o visual (e a narrativa visual) do filme são excelentes. Mas disso ninguém duvida. 'Nough said.
Os mixed-feelings que referi no início da crítica centram-se sobre a fórmula adoptada por Spielberg. Enquanto via o filme senti uma espécie de atmosfera de comédia dos anos 80, das quais sou um ávido defensor. Até sensivelmente 3/4 do filme senti que estava perante amis uma obra-prima de Spielberg: senti-me embrenhado na narrativa, no passar dos dias de Navroski e das suas caricatas soluções para os diversos problemas. Esquecendo até que ele parecia deslocado da sociedade ante a forma positiva de ver as coisas, mas atribuí essa explicação à possível sociedade do seu fictício país. O relacionamento dele, com Dixon (o director do Aeroporto), o restante staff, e é claro, o seu romantic-interest, Zeta-Jones, pareceu-me verosímil, ainda que sob o prisma narrativo dos anos 80. Quando (e alerto para alguns spoilers) em simultâneo Navorski sabe que já pode viajar para o seu País, sair para visitar Nova Iorque e que Zeta-Jones o vai deixar por outro homem, a unica coisa que me passou pela cabeça foi "WTF?". Como é que, a catarse do filme é tão irrealista e anti-climática que se resolvem 3 linhas de conflito do personagem em SIMULTÂNEO??!! Penso que foi neste preciso momento que Spielberg perdeu as estribeiras do filme e relembrou-se que é Spielberg. E porque é que digo isto? Porque por mais sangrento, revolucionário, inesperado, que um filme dele seja, a caminhar para o final à sempre um aveludamento "à Spielberg". Apesar de mal tudo acaba bem, de alguma forma. E se acham curioso que se estrague a opinião geral de um filme apenas com os minutos finais do filme.
Não sendo um mau filme (Spielberg sabe fazê-los maus?) não é mesmo o momento mais inspirado. É um bom filme para se ver se se estiver consciente de que forma o próprio filme nos vai esbofetear na cara e fazer-nos lembrar de que se trata de ficção. Impressionante como ele consegue tudo para fazer um filme simplesmente genial e...bem estraga-o....
Qualquer semelhança com a realidade é pura ficção, e 250.000$ dólares pagos pela Dreamworks a Mehran Nasseri. Um filme que poderia levar 5 Erics leva:
Classificação



quinta-feira, 11 de agosto de 2011
Super 8

Este filme de J,J. Adams (criador da série Lost, entre muitas outras coisas) foi das maiores surpresas que tive este ano. Penso que desde que vi o Cloverfield (curiosamente produzido por Adams) que poucos filmes recentes de Sci-Fi conseguiram simultaneamente divertir-me e respeitar-me intelectualmente. Mesclando na perfeição um argumento sólido e uma óptima produção e realização, resultando num blockbuster de qualidade (ufa, que já cá faltava algo assim).
Realização e fotografia
Muitas das críticas que têm feito a Adams são fundadas: ele demonstra a grande influência que sofreu de Spielberg, do ponto de vista de enquadramentos, realização, narrativa visual e fotografia. Facilmente o espectador mais desatento poderia pensar estar a ver um bom filme de Spielberg. Se alguns o criticam por essa proximidade, para mim, que sempre fui fã do trabalho de Spielberg, considero-o um elogio a Adams.
Conceito
Não entrando em pormenores do ponto de vista de história, o que posso dizer é que, o filme me parece um brilhante cruzamento entre "Goonies" e "Cloverfield". Não estranhem a mistura: a realidade é que "Super 8" consegue misturar a dinâmica e a narrativa típicas dos bons filmes Fantásticos dos anos 80, com o aspecto pré-teen de aventura de Goonies, com o mistério e o sci-fi brilhante de "Cloverfield".
Elenco
À semelhança de "Goonies", também "Super 8" tem como protagonistas uma série de child/teen actors, dos quais ressalto as interpretações de Elle Fanning, irmã mais nova de Dakota, e a quem prefiguro uma carreira brilhante, Joel Courtney, o verdadeiro protagonista, e Riley Griffiths, o personagem secundário do filme, que interpreta um jovem estudante de liceu que está a filmar um filme noir de zombies. Estes dois últimos tiveram a sua estreia no cinema neste filme, e a meu ver, uma estreia que augura carreiras promissoras.
Aconselho-vos vivamente a deslocarem-se ao cinema para o ver: é sem dúvida um dos grandes filmes de Sci-fi do novo milénio, que só falha, para mim, no mesmo ponto em que critico os filmes de Spielberg: com o condão de ter finais "suavizados" do ponto de vista da narrativa, independentemente do dramatismo/violência/mistério de todo o filme. Não que esta suavidade estrague a experiência que é ver este filme, apenas traz de volta aquela doçura dos finais de Spielberg, a que a mim, um fã acérrimo de bad endings, me irrita.
Classificação

quinta-feira, 19 de maio de 2011
Sistema de Classificações
Assim sendo cada objecto de review será alvo de uma avaliação que irá entre os 0 Erics e os 5 Erics
(para quem não sabe o Eric é o nosso lindo e inteligentíssimo periquito)
Actualizei os posts anteriores já com sistema de nota.
(Símbolos desenhados pela minha mulher Ana Maria Baptista)
1 Eric=

1/2 Eric =

quarta-feira, 27 de abril de 2011
That 70s Show

Demorei bastante a mergulhar nesta série. Infelizmente, sou um tipo cheio de preconceitos culturais. E qual o preconceito que me impedia de ver esta série? Simples. Ashton Kutcher.
À excepção do "Butterfly Effect" que vi, mantendo sempre longe o pensamento de que estava a ver o Kutcher, sempre me recusei a aturá-lo. Em relação à série em si já tinha visto uns episódios a tarde e más horas na TVI, quando chegava da noitada, e assistia a um ou dois episódios da série "Que loucura de família" (nome com o qual traduziram o título no nosso País). A televisão portuguesa teve nos últimos 15 anos o péssimo hábito de passar sitcoms a horas indecentes (tal como aconteceu com "Seinfeld"). Porque é que enchem o horário nobre com novelas escritas a metro e renegam para as 3 da manhã sitcoms bastante bem escritas? Não é parte da responsabilidade das TVs contribuírem para a cultura dos seus espectadores?
Ah, esqueçam. Isto sou eu a ser utópico.
Desde Dezembro de 2010 que estava a consumir compulsivamente sitcoms. Há aproximadamente 3 anos que tinha o meu primo me dizia "Vê That 70s Show" quase diariamente. Ao que eu respondia sempre com um "Depois vejo".
E assim aconteceu, entre Janeiro e Fevereiro deste ano devorei as 8 seasons desta grande série, que ultrapassou todas as expectativas no que concerne a longevidade, e que a mim, ultrapassou todas as barreiras do preconceito cultural.
Conceito
O conceito da sitcom é bastante simples: criar uma série de comédia que expresse preocupações, situações, pensamentos da vivência individual, política, social, económica e cultural dos EUA nos anos 70. Se o primeiro pensamento que vos vem à memória é a célebre sitcom dos anos 70 "All in the family" acreditem que é esse o espírito. Com a grande diferença que à excepção de "All in the Family", That 70s detém um humor mais transversal, cativando uma audiência mais vasta, apesar de à priori, devido ao seu elenco, parecer uma série unica e exclusivamente direccionada para jovens.
Elenco e Personagens
Há dois grupos distintos de actores/personagens nesta série: os jovens e os adultos.
Os jovens são quase todos actores estreantes nas lides televisivas que tiveram aqui a sua primeira experiência dramática. O personagem principal, Eric Foreman, interpretado por Topher Grace é o personagem principal, e é na sua casa e especialmente no seu porão que sucede grande parte da história. Eric é o desajustado jovem de 17 anos, tímido, e um total geek por Star Wars. O female lead é de Donna Pinciotti, interpretado por Laura Prepon, uma personagem forte, representando os ideais de emancipação feminina em fulgor nos anos 70. Steven Hyde, interpretado por Danny Masterson, é possivelmente o meu personagem favorito. Ele representa o típico tough guy, com ideais notoriamente de esquerda e que alimenta (e cria) teorias conspiracionistas com o Governo Americano. Em relação aos comic relieves da série, eles ficam a cargo de Fez (acrónimo para Foreign Exchange Student), interpretado por Wilmer Walderamama, que é o estudante estrangeiro oriundo de um País não-identificado (situação que é uma gag recorrente da série) e que representa por um lado o alvo de comentários racistas da parte do americano típico; e Michael Kelso, interpretado por Ashton Kutcher, o típico jock imbecil , burro e infantil que nos habituámos a ver nos media americanos. Jackie Burkhart, interpretada por Mila Kunis, representa a popular girl rica e vazia, que foi ganhando destaque à medida que a série avançou. Apesar de ser este o elenco principal, a série contava também com a promíscua Laurie Foreman, irmã de Eric, interpretada por Lisa Robin Kelly E Christina Moore (sem qualquer explicação da parte da produção) e Randy Pearson, interpretado por Josh Meyer e que foi integrado à pressa na série para preencher o espaço deixado vago pela saída de Grace e Kutcher, e que representa o jovem mais próximo dos anos 80, do que propriamente dos anos 70.
Os adultos, representados por actores experientes, conseguiram cativar o público da mesma forma que o elenco mais jovem. Os pais de Foreman, Red, interpretado por Kurtwood Smith, é o típico americano conservador, que em muito faz lembrar o Archie da referida série "All in the family", e Kitty, interpretada por Debra Jo Rupp, uma enfermeira carinhosa que de uma certa forma funciona como a figura maternal de todo o grupo de jovens. Os Pinciotti, pais de Donna, com menos relevâncias que os Foreman, são outro casal de destaque na série. Apenas Bob, interpretado por Don Stark, um americano liberal e excessivamente ingénuo se manteve na série na sua totalidade, visto que Midge, interpretada por Tanya Roberts que representa uma espécie de MILF, saiu na 5ª temporada. Para finalizar temos o hippie viciado em drogas, Leo Chingkwake, interpretado por Tommy Chung, que com a saída de Kutcher na última season assumiu a dianteira de personagem "burro" da série.
Em geral os personagens são muito bons. Se inicialmente os autores pensaram-nos com desnível de importância (colocando o peso do protagonismo em Eric e Donna) com o passar do tempo os personagens, devido à forte sinergia que mantinham uns com os outros acabaram por fazer passar despercebido o protagonismo da série. De todos o personagem menos bem conseguido foi Randy Pearson, e na minha opinião por duas razões: o elenco juvenil começou a sua carreira em simultâneo, e percebe-se ao longo da série a evolução que os actores vão tendo na arte de representar, aliado ao crescimento dos personagens, facto que, o actor Josh Meyer não soube acompanhar; e por outro lado pelas circunstância de inserção do personagem na série. Com o já referido vazio deixado pelas saídas de Foreman e Kelso, os autores tiveram de improvisar um novo personagem para aquela que seria a última temporada da série, personagem esta que se revelou um fracasso quando comparada com a dimensão que as outras já tinham ganho.
Em relação ao meu pequeno ódio de estimação com Kutcher ele não mudou, e aliás passei a adorá-lo no papel de Michael Kelso. Mas apenas aí.
Humor
O humor da série é, na minha opinião, do mais alto nível. Consegue afastar-se simultaneamente de um humor mais directo e do humor excessivamente encriptado, conseguindo agradar a variado tipo de audiência.
Refiro especialmente uma situação recorrente da série: o Círculo. Os autores conseguiram inteligentemente, ao longo de 8 temporadas, representar em cada episódio o grupo sentado em círculo a fumar marijuana, deixando sempre este acto ímplicito, e enquanto que a câmara, posicionada no centro girava para focar personagem a personagem, estes tinham diálogos absurdos, sobre essencalmente nada, mas que me conseguiam sempre roubar uma gigantesca e genuína gargalhada.
Com a típica estrutura de sitcom, em que cada episódio é um stand-alone, podendo ou não fazer parte de uma story-arc transversal que atravessava vários episódios, a série conseguiu manter o fôlego do humor inteligente e criativo até ao início da temporada 8. Tal como se antevia, a dinâmica da série era a optimizada ligação entre os personagens jovens e adultos. Com a saída de Grace e Kutcher, e integração de Meyer, a série perdeu bastante da sua piada e senti que apenas, com o aproximar do final da série (que termina no Revéillon de 1979 para 1980) e em especial no final da série em que tanto Foreman e Kelso regressam, a série se encerrou a si mesma de forma digna, selando as pontas que tinham ficado soltas e dando um final devidamente construído aos seus personagens.
Para mim, que sou e sempre fui fã de sitcoms (em que "Frasier" aparecia em lugar cimeiro do meu top) "That 70s show" consegue ser uma boa imagem da sociedade dos anos 70, e simultaneamente descontrair-nos com um óptimo humor, personagens memoráveis, credíveis, e por quem qualquer espectador consegue mais ou menos, criar uma ligação. Sem dúvida um must-see para os fãs de sitcoms, ou para aqueles que apenas se querem sentar no sofá e desfrutar de bom humor, que nunca, mas nunca, nos rotula na testa como "Idiotas".
Classificação
Season 1-7
Todas as imagens e personagens são propriedade da Fox Broadcasting Company.
Final Fantasy 1 para NES (jogada a versão de GBA)
Para responder a esta dúvida que permanecia há já alguns anos, decidi começar a jogar o primeiro Final Fantasy da NES, mas visto que saiu um re-release para GBA (acompanhado do FF II, com o subtítulo Dawn of Souls), com melhoramentos visuais (essencialmente) e a adição de 4 dungeons, e que em nada alteraram o sistema de jogabilidade original, optei por esta segunda versão.
(diferença do visual entre a versão original de NES e o remake de GBA)
Interface:
É curioso perceber que o sistema de menu que acompanha todos os FF são tweaks gráficos da versão original. O interface é tão simples e intuitivo que ainda hoje é utilizado, e é quase referencial para os jogos do género. Rapidamente o jogador se habitua aos diversos elementos de interface: world map, city/dungeon exploration, menu, buy/sell menu e battle menu.
Personagens:
Os jogadores que assim como eu se inciairam no género através do FFVII e posteriores estão habituados a personagens jogáveis predefenidos com background e história própria. No primeiro FF nada disto acontece. Ainda a beber muito dos RPG pen and paper clássicos como D&D, os personagens jogáveis são personagens padronizados com classes (Fighter, Red Belt, Thief, Red/White/Black Mage) cujo único factor customizável é o nome. Os personagens não têm qualquer história apesar de serem parte fundamental da narrativa de jogo. Nos dias de hoje este factor seria pouco aliciante para um jogador, mas há-que compreender que aquando da sua criação corria o ano de 1987 e ainda se estavam a dar os primeiros passos nos RPGs.
Ao nível do bestiário e NPCs denota-se também a vasta influência de D&D. Neste ponto tenho de me afirmar amplamente surpreendido: detinha a ideia pré-concebida que este jogo, sendo o primeiro da série e ainda por cima para a consola de 8 bits da Nintendo seria mais limitado em Non-Playing Characters e monstros, facto que não se observa, dando um aspecto dinâmico a um jogo que facilmente o deixaria de ser.
Storyline:
Mais um ponto em que fiquei agradavelmente surpreendido. O enredo da história vai crescendo ao longo do jogo e o conhecimento que vamos tendo das diversa situações situações políticas dos vários reinos e raças presentes no mundo auxiliam a construir a história que não sendo muito complexa (4 heróis têm de obter 4 cristais (cada um dos 4 elementos) protegidos por Bosses até ao culminar do confronto final com Garland) consegue ser aliciante.
Jogabilidade:
Tal como indiquei a nível de interface, o jogo é bastante simples de adaptação a novos jogadores do género.
A nível de longevidade foi mais um ponto positivo do jogo: onde terminei o jogo com umas longas (para um jogo de NES é óbvio) 17 horas de jogo.
A dificuldade do jogo é amplamente relativa ao nível dos personagens . Para mim o jogo foi demasiado fácil. E não o digo para me auto-proclamar o mestre dos RPGs mas devido a grinding* intensivo que o jogo me obrigou, demasiadas foram as ocasiões em que consegui matar bosses de final de dungeon com 2-3 acções! E é aqui que eu penso que o jogo pecava: pela sua demasiada abertura no que concerne ao mundo em si. Numa fase inicial o ritmo em que o mapa se desevenda está unicamente dependente dos meios de transporte que temos á nossa disposição. No 2/4 do jogo, com a aquisição da airship o mundo abre-se estupidamente levando à procura intensiva de elementos para continuar o storyline. E muitas vezes poucas ou nenhumas referências existiam de para onde e como obter dado item, acabvando o jogador por percorrer a pé grande parte do mapa, e fazendo dessa forma um intenso grinding.
Admito até, que devido a este problema fui obrigado a consultar um walkthrough na internet de tão preso que estava no jogo. Para terem uma ideia, todas cidades e dungeons visitáveis são facilmente identificadas no world map. Acontece que um item obrigatório para a progressão do jogo se encontra no deserto, complementamente sem identificação, e que apenas conseguimos descobrir percorrendo o pixel certo. Imagino como é que em 1987 os jogadores que se deliciavam com este jogo conseguiam sequer ter ideia de onde ir?
Nesta falta de informação referente a itens, que foram grandes dores de cabeça para descobrir, há também um ponto positivo de objectos que encontramos no início do jogo para qual não temos função e que se revelam necessários para o final do jogo.
Adiciono ainda que esta falta de informação referente a itens surge também com a party a criar logo no primeiro ecrã de jogo. Das 6 classes disponíveis temos de escolher apenas 4 para jogar, sendo que essa escolha é baseada em informações rudimentares de 1-2 linhas por classe. Um jogador com pouca experiência pode ver-se a braços com uma party desequilibrada que até à evolução de classes (que acontece a meio do jogo) pode significar uma grande dificuldade na progressão de jogo, se por exemplo não tiver disponível nenhum healer, ou, um personagem com grande defesa física para servir de tank à party.
Apesar destes apontamentos ainda considero que FF1 é um belíssimo jogo e um must-play para os fãs do género, nem que não seja para perceberem a génese dos RPGs e qual o caminho trilhado até aos titulos contemporâneos.
Classificação

*grinding =é, nos videojogos, o acto repetitivo de dada acção, por exemplo nos RPGs, em andar a evoluir os personagens através de sucessivos random encounters e da Experiência que aí se ganha.
(Todas as imagens e personagens são propriedade da SquareEnix, Ltd.)
quinta-feira, 7 de abril de 2011
Phoenix Wright (trilogia) para GBA e NDS

Sou e sempre fui um ávido fã de Aventuras Gráficas. Em especial aquelas com quem cresci, saídas dessa máquina genial de fazer videojogos sublimes que era a LucasArts, e as suas séries de Curse of Monkey Island, Maniac Mansion e já no final dos anos 90 o divertidíssimo Grim Fandango, assim como Broken Sword 1 e 2, da Virgin. À excepção da magnífica obra do artista Belga Benoît Sokal, Syberia I-II, já em 2002 e 2004 respectivamente, a última década quase passou em branco no que concerne a Aventuras de relevo e que me tenham de alguma forma apaixonado. Admitindo que um fã de Aventuras Gráficas parte da premissa que um bom jogo do género é obrigatoriamente da plataforma PC, qual não foi a minha surpresa quando vejo ser condensado o maior equilíbrio qualidade/inovação/criatividade num jogo (e uma série de jogos aliás) pela Capcom (conhecida pelos seus beat’em ups, survival horrors, entre outros) para o Gameboy Advance. Phoenix Wright: Ace Attorney, ou no original Gyakuten Saiban Yomigaeru Gyakutenc, criado por Shu Takumi, tornou-se sem sombra de dúvida a minha série favorita de aventuras gráficas. Nos meus diversos pontos de avaliação ao género, conseguiu superar todas as minhas anteriores paixões: a nível de riqueza de personagens conseguiu superar The Curse of Monkey Island, ao nível do humor supera o surreal Maniac Mansion 2, e não tendo um visual 3D como o Syberia, conseguiu, com um aspecto perfeitamente anime-esq de visual novel, ser simultaneamente criativo e apelativo. E a história, essa, consegue submergir-nos neste mundo estranho mas tão semelhante ao nosso, e cativar-nos com momentos mais emocionais tal como o Syberia 2 o fez.
Quando me falaram deste jogo, e me transmitiram o conceito base – em que nós desempenhamos o papel de um advogado de defesa cujo único objectivo é obter um veredicto de “Not Guilty” – reagi com alguma estranheza. “Mas como raio é que alguém consegue por um conceito destes a funcionar? – pensei eu, e depois de ter jogado os 3 Phoenix Wright, o que vos digo é simplesmente: THEY DID IT!
Aviso previamente de eventuais spoilers que esta análise mais profunda dos jogos possa conter.
Storyline e Personagens:
Neste capítulo (e em muitos outros) o 1º título da série é ligeiramente superior às duas sequelas. PWAA cumpre de forma eficaz a tarefa de submergir o jogador no universo, apresentando pouco a pouco os personagens e ligações prévias que estes possam ter tido. O personagem que dá nome à série, Phoenix Wright, é um jovem advogado que tem o seu primeiro caso no início do jogo, tendo a seu lado a sua mentora, a advogada Maya Fey. Phoenix consegue cativar com a sua postura simultaneamente decidida e “clueless”, mas demonstrando sempre um empenho e uma dedicação notoriamente nipónicas, e uma vontade de aprender ao máximo com a sua brilhante mentora. O seu cabelo espetado confere-lhe uma silhueta tão reconhecível que a Capcom utiliza-a enquanto ícone da série. É neste primeiro caso que conhecemos também Larry Butz, o amigo de infância de Phoenix, que é, e sempre foi, um idiota, e que surgirá recorrentemente na série. “When something smells it’s usually the Butz” já lhe diziam em pequeno…e com toda a razão. De igual importância neste primeiro jogo é a introdução de Miles Edgeworth, o promotor público que é o arqui-inimigo de Phoenix, e simultaneamente o seu melhor amigo, Dick Gumshoe, o trapalhão detective responsável pelas investigações de homicídios, o Juiz sem nome que julgará quase todos os casos da trilogia e Mia Fey, a irmã mais nova de Maya, que será a sidekick da série no decorrer da triologia. No segundo título, Phoenix Wright: And Justice for All, é introduzida outra personagem que acompanhará Phoenix como sidekick: a pequena Pearl Fey, prima de Maya e Mia, que é detentora de um poder místico sem igual, e Franziska von Karma, uma promotora pública, filha de um vilão do primeiro título. No terceiro e último título da trilogia, Phoenix Wright: Trials and Tribulations, é introduzido um novo promotor público, Godot, uma figura caricata e complexa que entrará em disputa com Phoenix em quase todos os casos do jogo.
É curiosa a forma como os autores introduziram a rivalidade entre advogados de defesa e promotores públicos enquanto conceito base do próprio jogo e da história. Neste universo existe uma linha diametralmente oposta entre ambos os lados, criando rivalidades de décadas entre advogados e promotores, fazendo da Sala de Tribunal uma verdadeira arena para ambos os lados.
Sem dúvida que uma mais-valia para a série é o seu alto cuidado com os diálogos, o humor e a emoção aplicadas a estes, os twists próprios dos melhores mistérios e policiais, e um elenco de luxo de personagens muito bem construídos e que vão, ao longo da trilogia, ter conexões estranhas entre si.
Visual:
Melhor concept art não se poderia esperar de uma empresa que nos habituou a personagens esteticamente espantosos, como é o caso da Capcom. Apesar do visual anime, que poderá demover os maiores depreciadores do género, o enorme elenco de personagens (e a sua qualidade visual) é de deixar qualquer um boquiaberto, onde assistimos a personagens tão variados como um detective cowboy (Jake Marshall em PWAA), um ilusionista super-estrela com um look glam rock (Max Galactica em PWAJFA) e um cozinheiro francês shemale com bigode e pêra (Jean Armstrong em PWTAT). Mais do que tudo, a arte de Phoenix Wright conseguiu fazer dos seus personagens memoráveis e dos seus cenários dinâmicos, ainda que não passem de ilustrações estáticas, altamente detalhadas.
Interface e jogabilidade:
As partes de investigação correspondem ao esperado em qualquer aventura gráfica: usar item no local x, falar com y, apresentar item z à pessoa y, etc. Mas é nas fases de tribunal que o jogo retém a sua grande inovação no género. Nós, enquanto advogados de defesa temos sempre a possibilidade de contra-examinar os testemunhos das testemunhas (quase pleonasmo), pressionando-as nas suas frases para tentar encontrar falhas ou mentiras nas mesmas (ou novos dados sobre os casos) e apresentar contradições nos seus argumentos, utilizando objectos que contrariem os testemunhos, e dessa forma, desmascarando a verdade e conseguindo ilibar os nossos clientes. Porque os nossos clientes são SEMPRE inocentes. E não se trata apenas de uma assumpção cliente-advogado, eles são sempre inocentes. Ou aliás, quase, quase sempre. Com as célebres " TAKE THAT!" e “OBJECTION!” em que Phoenix estende o dedo à testemunha para apresentar um objecto que a contrarie, ou o “HOLD IT!” que usa para os pressionar, e que se tornaram já, parte da memória cultural.

Em PWAJFA é introduzida a utilização do Magatama, o pendente místico de Maya Fey que permite quebrar mentiras (Psyche-Locks que aparecem visualmente como fechaduras) da mesma forma como se contra-argumenta em tribunal. Achei curiosa a introdução do Magatama, mas senti que a sua aplicação foi fazendo mais sentido, pois ficou a ideia que nas primeiras situações em que o Magatama foi utilizado, os contra-argumentos para quebrar Psyche-Locks soavam algo aleatórios.
-------------------------------------------------
Em geral considero a trilogia amplamente coesa no seu decorrer. As interligações entre os diversos casos e os diversos intervenientes está bem construída e explicada, terminando a história sem pontas soltas ou com a sensação dos diversos elementos não jogarem bem uns com os outros. Se considero este um dos pontos principais da série, tenho da mesma forma de apontar o segundo título como o menos bom, ou para ser mais preciso, o menos excelente dos 3. Os casos são bons, mas a interligação e sensação da história enquanto um continuum entre os 3 títulos por vezes perde-se por conter casos isolados entre si. Não quero com isto dizer que é um mau título, mas o caso final (que no 1º e 3º jogos são casos longos e de alta relevância no passado dos personagens principais) pareceu-me forçadamente extenso e sem grande impacto na continuidade. Divertido e empolgante, mas não ao ponto de tirar o fôlego como os casos finais de Ace Attorney e Trials and Tribulations.
Em suma, uma excelente série, que obriga a raciocínios complexos para compreender e desvendar os homicídios e encontrar a melhor forma de ilibar os nossos clientes. Um must-have para todos os detentores de uma Nintendo DS. Um must-play para todos os apreciadores de aventuras gráficas.
Classificação
Phoenix Wright: Ace Attorney
Phoenix Wright: And Justice for All 
Phoenix Wright: Trials and Tribulations 
(Todas as imagens e personagens são propriedade da Capcom Co., Ltd.)